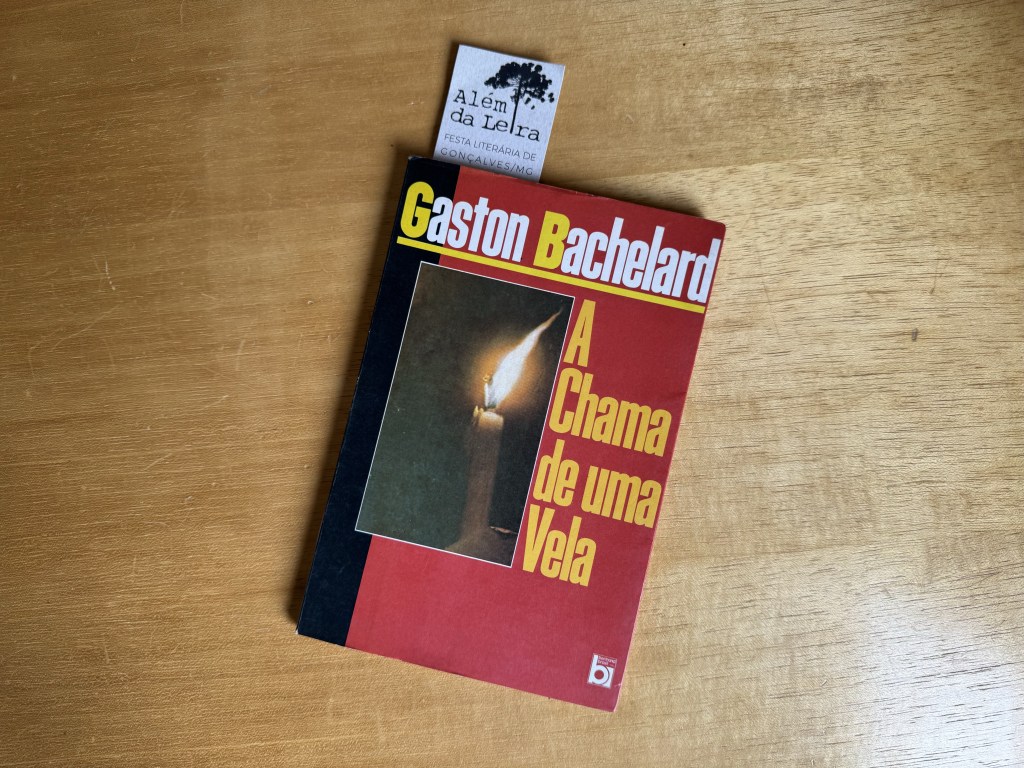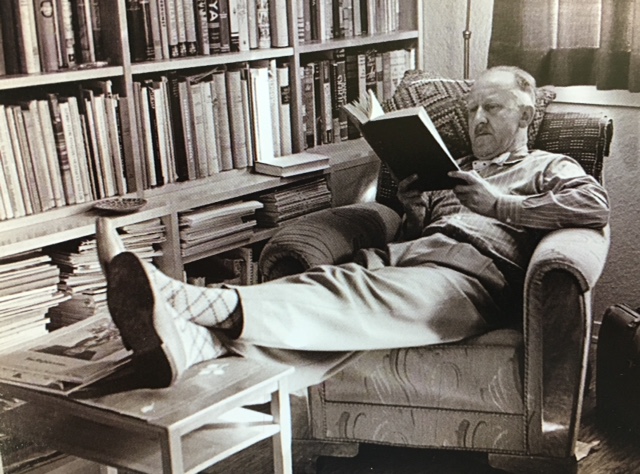Quantas vezes julgamos pessoas a partir da aparência. Não raro evitamos contato com pessoas tomando por base o seu estereótipo. Resulta que cometemos erros e podemos perder a oportunidade de conhecer perfis interessantes. O relato a seguir conta uma dessas situações.
O edifício 1911 fica localizado no campus da Universidade do Estado da Carolina do Norte nos EUA, onde me graduei como PhD em Economia Agrícola. Foi construído para ser o dormitório dos alunos, posteriormente transformado em salas para alunos de pós-graduação. O nome dado ao prédio de estilo Vitoriano cuja elegância é marcada por colunas, janelas simétricas e tijolos aparentes, tem a ver com a rebeldia dos alunos que se posicionaram contra a tradição do trote a que eram submetidos os calouros. O prédio é de 1908 e a turma rebelde, de 1911, daí a homenagem pela coragem de se contrapor a tradições espúrias que serviam para delimitar o espaço de poder dentro do campus.

A minha sala ficava no centro do prédio – a janela está marcada na foto – por ser pequena eu a ocupava sozinho a não ser quando era necessário acomodar algum aluno por pouco tempo. Foi o que aconteceu no outono de 1981 quando um jovem, trajando chapéu e roupa de vaqueiro, dividiu o espaço comigo. Ao entrar na sala, eu o encontrei em uma escrivaninha colocada na minha frente, era impossível não olharmos um para o outro. Acenei com um cumprimento, mas não obtive resposta, pensei não ter sido notado, tentei novamente sem sucesso. Ao tomar o meu lugar notei que havia um recipiente no chão, ao lado da cadeira do meu novo companheiro de sala. Achei estranho, mas evitei perguntar do que se tratava.
Eu convivi no campus com os tipos de todo o mundo. Logo imaginei que tinha à minha frente um exemplar de aluno norte-americano do sul, marcado por atitudes preconceituosas contra pretos, e contra estrangeiros em geral. Enquanto eu tentava compreender o silêncio que se instalara entre nós, o meu colega – talvez eu possa chamá-lo assim – sacou um pacote do bolso do casaco e pegou algo que parecia uma massa homogênea que levou à boca inflando a bochecha do lado direito do seu rosto. Aquele volume permaneceu por certo tempo circulando na sua boca, ora inchando o lado direito, ora se alojando do lado esquerdo, até que aconteceu o inesperado. O jovem se debruçou sobre o recipiente ao seu lado e cuspiu um volume líquido de coloração escura que atingiu o fundo, ainda vazio, do spitoon, nome dado ao utensílio que conheci naquele dia. Uma cuspideira utilizada em bares e locais públicos frequentados por consumidores de tabaco de mascar.

A operação foi repetida algumas vezes ao longo do dia, exigindo repetidas manobras do jovem, que não errou o alvo uma vez sequer. Era impossível viver na Carolina do Norte sem saber do costume de mascar fumo que os colonizadores aprenderam com os índios que viviam no local. Convivi com o meu silencioso parceiro de sala por um mês. Soube que se tratava do filho de um produtor de tabaco, que participava em uma pesquisa sobre o produto. Em silêncio chegou, em silêncio permaneceu, e em silêncio desapareceu sem que eu tivesse conseguido romper a barreira de comunicação. Fiquei sem saber o seu nome, o que ele pensava de mim e perdi a oportunidade de conhecer um tipo diferente do perfil com o qual eu estava acostumado. Nunca saberei se foi melhor assim.
A experiência mais marcante dos quatro anos passados no campus da N.C. State foi a de conhecer variados tipos humanos. Aprendi que estereótipos resolvem o problema do observador que não deseja gastar energia para conhecer pessoas diferentes. Estereótipos são generalizações compartilhadas, associadas a uma raça, religião, nacionalidade, ou a um simples tipo como um morador de rua, ou um cowboy mascando fumo. Podem vir carregados de preconceitos e ignoram o mais relevante: as características complexas dos indivíduos.
Quando eu decidi estudar na Carolina do Norte fui alertado que encontraria um país conservador, racista e preconceituoso e que os estudantes norte-americanos nunca travariam contato comigo. Não posso endossar este preconceito, encontrei colegas norte-americanos que me ajudaram na minha pesquisa mais do que o meu orientador e se mostraram pessoas de raro caráter. Depois de quatro anos retornei ao Brasil, enriquecido pelos encontros que tive. Assim foi com os primeiros chineses que receberam permissão para estudar nos EUA, resultado do estabelecimento de laços diplomáticos com a China. Tive colegas coreanos, indianos, australianos, sudaneses, franceses, ingleses, gregos, e uma amiga, com quem mantenho contato até hoje, de origem taiwanesa, além de pencas de brasileiros, bolsistas como eu, que foram estudar ciências agrárias. Aprendi muito com aqueles que passaram pela minha pequena sala no 1911 Building.
Na Carolina do Norte presenciei, com medo e repulsa, uma passeata da Ku KLux Kan. Por outro lado, foi lá que eu vi nos anos 1980 uma celebração do dia do orgulho gay, que no Brasil só viria a ocorrer em 1997. Foi naquele país, dito conservador onde participei de uma reunião com um grupo que celebrava a Revolução Sandinista de 1979 que substituiu o ditador de direita, Somoza, pelo ditador de esquerda, Daniel Ortega, que ainda anda por lá. Pobres nicaraguenses, massacrados pelas ideologias. Nem a polícia, nem o exército apareceram para atrapalhar os manifestantes, como aconteceria no Brasil dos anos de chumbo.
Conheci conservadores e progressistas nos EUA. Tentei, mas tive dificuldade, me aproximar da comunidade preta norte-americana, cujo isolamento pode ser compreendido pelo histórico de violência vivida naquela região, onde nasceu Nina Simone, e em uma Universidade onde até os anos 1960 não era permitido o ingresso de pretos. Eram, e ainda são, discriminados, mas ovacionados quando faziam maravilhas nas quadras de basquetebol, onde vi Michael Jordan antes de ser famoso e seguir para o Chicago Bulls.
Aprendi a ter cuidado com estereótipos, o que não me ajudou a resolver o fracasso por não ter descoberto o significado do silêncio do meu colega de sala, aquele vestido de cowboy que cuspia fumo.